Esta é a continuação da edição da semana passada. Se você não leu, não tem problema. Passei uma semana em São Luís, no hospital com a minha avó. Na primeira parte, falei sobre cuidados na família e ser uma neta que mora longe. Caso prefira ler antes, aqui vai o link.
3
De volta a Curitiba, os dias passaram rápido. Acompanhava os boletins médicos como se ainda estivesse em São Luís. Ficava atenta à escala de quem ia passar a noite. Logo vieram os exames de preparação para a cirurgia na perna, quem sabe uma chance para que ela pudesse se movimentar outra vez. E uma piora bem no dia marcado para o procedimento.
Foi mais ou menos nesse ponto que eu tentei ver a sessão de Vidas Passadas, num cinema de rua perto de casa. Não ter conseguido trocar meu ingresso, apesar de abrir o jogo e contar que perdi a sessão porque fui ver minha numa UTI do Maranhão, me fez perceber uma outra coisa.
Também não conseguiria solicitar o reembolso parcial por ter comprado as passagens de última hora, algo possível em caso de emergências familiares. Até me lembrei disso quando estava escolhendo os voos, quem sabe poderia dar certo, economizar um pouco, mas deixei pra ver depois, quando estivesse mais tranquila.
Na pulseira de identificação do hospital, aparecia o nome da mãe de minha avó: Itelvina Correa Pinheiro. Alguém que nunca conheci, de quem não me lembro de ver o retrato, nascida mais de um século atrás.
Na minha certidão de nascimento, não é o nome de Rita que aparece, mas o de sua irmã, Maria Helena. Mamãe foi adotada ainda bebê, um processo nunca formalizado. Então Rita não seria uma familiar direta. Como provar a uma companhia aérea que ela é a minha avó? Será que a situação se encaixaria nos critérios do benefício? O termo tia-avó me assusta. Engasgo na hora de pronunciar tais palavras pra falar da minha família. São duas avós. A que não precisa ser nomeada, quem sempre chamo de ‘vó’, é Rita.
Vovó sempre fez questão de que eu me sentisse igual às outras netas. Esse esforço da parte dela me mostrava que, no fundo, no fundo, não era a mesma coisa. Mesmo assim, ao caminhar pela rua da casa dela, num bairro antigo da cidade, imaginava que algum vizinho me reconheceria como neta-de-Dona-Rita, como parte daquela família de tantas mulheres. Sem meu avô, falecido em meados dos anos 90, vovó comandava uma geração de seis filhas, mais oito netas e duas bisnetas. Não fazia sentido ir atrás do desconto no valor da passagem. Não caberia a uma empresa definir a minha relação com Vó Rita.
Nos dias em que fiquei de acompanhante na UTI, não falamos muito. A maior parte do tempo era de silêncio. Olhava pra vovó e tentava imaginar o que ela estaria pensando, pensava em tudo o que ela viveu. Sair de São Bento, uma cidadezinha na baixada maranhense, com o marido e as seis filhas. Botar essas meninas pra estudar.
Veio a compreensão de que ela mudou nosso destino, escolhendo a minha mãe, nos escolhendo. Não deixando mamãe ir embora para outro estado. O que teria sido de mim, se é que teria sido, se Dona Rita não fosse tão teimosa, tão mandona. Até esse momento, eu ainda encarava como o principal divisor da minha vida ter saído de São Luís. Ter ido embora. Agora vejo que a decisão que mais me impactou veio muito antes disso.
*
Estava no trabalho quando atendi a um telefonema, mais uma daquelas ligações da minha irmã, para ouvir trechos de frases. ‘Falência de órgãos’. ‘Estão chamando a família’. Como eu queria poder pegar um carro de aplicativo e me desbancar para o hospital. Dessa vez, decidi não ir. Nem passou pela minha cabeça. Também não queria voltar pra casa. Saí um pouco mais cedo do serviço e caminhei até a cinemateca para ver a exibição do documentário de Annie Ernaux, Os Anos do Super-8. Um evento tão badalado na Flip de 2022 e tão deserto naquela quarta-feira, véspera de feriado da Páscoa.
Por trás das imagens de gravações antigas de família, consegui ver uma escritora assistindo ao material bruto do filme, na busca de entender quem ela era naquelas cenas, naquelas casas, naquelas viagens pelo mundo. Dias antes, tinha visto Aftersun, e ainda estava pensando naquela filha tentando encontrar novas pistas sobre seu pai a partir dos vídeos feitos numa viagem de férias para a Turquia. Vídeos que pareciam ter sido vistos tantas e tantas vezes.
Cheguei em casa para vasculhar os arquivos de celulares e computadores antigos. Sabia que teria, em algum lugar, a cópia das fitas da câmera de vídeo que marcou uma fase do casamento de meus pais, pouco antes do meu nascimento. Inclusive, lembro de levar essas mesmas fitas para serem restauradas, em São Paulo, num lugar que papai encontrou pela internet. Depois carreguei os DVDs para São Luís, de avião. Hoje meu notebook nem tem mais entrada para CD. Não faço ideia de onde as cópias físicas estão guardadas.
Assim que peguei as fitas restauradas, vi trechos de cada CD para me assegurar de que a conversão tinha dado minimamente certo. Na minha procura, só encontrei as capturas de tela que fiz nesse momento de teste. Não encontrei os vídeos, devo ter perdido na troca de computador. Ai, o descuido com os arquivos digitais. Nunca vi as gravações completas. São horas de gravações amadoras da nossa família.
Quando tive a oportunidade, me pareceram entediantes. Os pedaços de que me lembro são tardes na casa da minha avó, eu abraçando o nosso primeiro poodle, a formatura do ABC, imagens escuras no primeiro apartamento onde moramos. Uma das capturas de tela era um close no rosto da minha avó, ainda com os cabelos pintados.
Dona Rita morreu naquela madrugada, um mês depois de completar 91 anos.
4
Uma certeza que eu tinha na vida era que estaria no velório de minha avó materna. Nunca duvidei disso. O fato de meu pai não ter me levado para Salvador depois que a mãe dele faleceu era um marco que eu usava para aceitar que nunca tinha feito parte da família dele. Como se a companhia de seus filhos maranhenses estivesse fora de cogitação para aquele momento da família Silveira. Tudo isso aconteceu quando ainda era uma adolescente, a interpretação veio depois.
No final de semana que eu perdi a sessão de Vidas passadas no cinema e decidi ir ver Vó Rita em São Luís, não estava preparada para que aquela fosse uma viagem para ir a um velório. Não queria representar a visita da morte. Foi com espanto, e alívio, que acompanhei a sua melhora.
Pude cuidar dela, pude sentir o aperto da mão dela na minha. Até rezamos o terço juntas, depois que procurei a ordem certa das orações na internet, mas ela só queria saber de recitar as ave-marias. As noites que passamos juntas foram a nossa chance de uma despedida digna, e eu já sabia disso quando estava lá. Fazer pelos vivos, não pelos mortos.
Teria dado tempo de chegar se eu tivesse ido pro aeroporto assim que recebi a ligação da minha irmã, no trabalho. Fui avisada com certa antecedência. Não sei se poderia vê-la uma última vez com vida. Sei que poderia chegar a tempo do velório e do enterro. E, apesar daquela certeza que eu alimentava desde a adolescência, não fui.
O que eu não imaginava lá atrás, quando tracei esse plano, quando finquei essa certeza, é que pudesse viver outra fissura familiar. Dessa vez ainda mais perto, no núcleo, no trio que formava com a minha mãe e minha irmã mais velha. O que costumava ser um alento para a diferença que sentia do resto da família.
A filha de duas mães-irmãs. As netas de duas avós-irmãs. Recebi a sensação de abandono como uma herança materna, necessária. O sentir que fomos acolhidas até certo ponto. Vovó foi envelhecendo, perdendo força, perdendo um pouco de si mesma, e comecei a me sentir cada vez menos confortável na casa dela.
Os cômodos começaram a ficar restritos. Acabaram os almoços de comemoração. Quantas vezes não saímos de lá na correria como se alguém estivesse nos expulsando. Quantas vezes não planejamos visitas em horários específicos para poder ter um tempo em paz com Dona Rita, que já não queria saber de sair de casa. Quantas vezes não engoli o orgulho.
Uma daquelas gravações que não sei onde estão mostrava a minha irmã correndo ao redor da casa de minha avó e gritando entre os adultos: “corre, corre, corre”. Sem pronunciar o “rr”, o som era de: “coe”, “coe”, “coe”. Uma lembrança para ter a certeza de que já nos sentimos totalmente à vontade lá. Naquele mesmo terraço onde eu acompanhava os desfiles de carnaval, quando os desfiles passavam naquela rua, e morria de medo de fofão.
Com a casa diminuindo, o que nos restava eram as tardes de conversa aos pés da caramboleira, no quintal. Comi frutos dessa árvore em toda a infância. Nunca experimentei carambolas mais gostosas, sempre cortadas no formato de estrela, servidas num pratinho. E, por esses tempos, me alegro quando vou almoçar no restaurante de quilo do bairro e, na parte das saladas, vejo carambolas fatiadas. A fruta de um amarelo vivo, sem partes queimadas, uma raridade em Curitiba. Não são carambolas de supermercado. Logo a casa de vovó será vendida e quem sabe o que vai acontecer com a caramboleira.
Na lugar onde cresci havia um pé de carambola, um descendente do pé de carambola de vovó. Nunca deu tantos frutos, não era a mesma coisa. O pinheiro que ficava na entrada dessa casa foi derrubado assim que os novos moradores reformaram a fachada. Dá pra ver passando na rua. A ausência de um pinheiro que já tinha ultrapassado a altura do telhado. O que terá sido da caramboleira na rua 2, quadra H, casa 18, no Conjunto dos Ipês do Recanto dos Vinhais?
Os lugares que já chamei de casa, em São Luís, vão desaparecendo. A casa onde cresci, a casa da minha avó e agora a casa da minha mãe. Neste momento, a casa da minha mãe é um lugar que não posso acessar. Pessoas entram e saem das nossas vidas, surgem diferenças. Não posso chegar lá e entrar com a chave que tenho comigo para procurar as cópias das fitas cassete, nem me demorar na caixa de fotos analógicas que fomos tirando dos álbuns ao longo dos anos e nunca colocamos de volta no lugar.
E, por isso, perdi o velório da minha avó. Para não me sentir uma intrusa. Para não me sentir deslocada. Para ficar com os momentos que tivemos juntas. Vovó e eu.
Na nossa última noite, eu disse que queria que ela voltasse pra casa se fosse pra ela me oferecer uma carambola recém-tirada do pé.
5
Na véspera do aniversário de Vó Rita, ainda em fevereiro, sonhei com ela. Foi um sonho tão nítido. Eu chegava de visita, e o portão da casa estava diferente. Era um portão branco, mais novo que o portão preto que está lá há tantos anos. Ela abria a porta pra mim rapidinho. Como sempre, estava zanzando pelo terraço para acompanhar o movimento da rua. Lá dentro da casa, eu também encontrava tia Christina e a gata Bibi. Tia Kikiza, como a chamava desde criança, faleceu em dezembro. Bibi, anos atrás. Dona Rita parecia lúcida como eu não via há muito tempo.
De primeira, relacionei o sonho ao aniversário, já estava com a cabeça em vovó. Veio a queda, e eu não sabia a gravidade da situação. De longe, a evolução para um quadro grave foi repentina. Quando contei para minha irmã do sonho e perguntei a ela se deveria ir a São Luís, era como se eu estivesse vivendo uma história escrita às pressas pela Isabel Allende, com a mão pesada na clarividência.
Agora esse sonho me conforta. O cabelo branco da minha avó que aparecia por cima do portão, no ponto em que começam as grades. A risada da minha tia quando me viu chegar. Ter essa imagem de Vó Rita tão contente, em casa, com titia e a gata que fez tanta companhia pra ela. O único bicho de estimação que entrou naquele espaço. Uma gatinha preta, arisca só com os outros.
Depois da morte de minha avó, cismei que queria ir a uma igreja, aqui em Curitiba, no mesmo dia de sua Missa de Sétimo Dia. Até agora não entendi por que a celebração foi marcada para o sexto dia após o falecimento. Só sei que essa confusão nas datas atrapalhou meus planos. E, não querendo dar o braço a torcer, decidi que iria na missa no SÉTIMO dia.
Antes disso, a celebração na Igreja do Monte Castelo estava marcada para às cinco e meia da tarde de uma quarta-feira, durante o expediente. Como eu estava trabalhando de casa, acabei assistindo a missa pela internet.
A transmissão era de uma qualidade surpreendente. Escutei todas as vezes que o nome Rita foi mencionado. Acompanhei a legenda informativa sobre os trechos lidos da bíblia e, melhor ainda, descobri que se você vê a missa online não precisa decorar todas as respostas a orações que os fieis repetem como num jogral. Basta ler o que aparece na tela. E eu preocupada porque não prestava atenção nas aulas de catecismo.
Em intervalos do rito, a câmera principal era direcionada para os bancos da igreja. Vi minha mãe ao lado da minha irmã. Vi que uma das minhas primas chegou atrasada, com roupa de trabalho. Tomei nota de quem comungou e de quem não comungou. Assim como não consegui me ver no velório, também não vi lugar pra mim na missa. Não sei onde me sentaria.
Sonhos, telefonemas com más notícias, fotos do monitor cardíaco trocadas por mensagem e, agora, uma missa de sétimo dia vista pelo youtube. Toda uma experiência indireta de luto.
Nas últimas visitas na casa de vovó, já não sentava com ela perto da caramboleira, naquelas cadeiras de praia que ficavam pelo quintal. Nem sempre ela conseguia ir me buscar no portão. A gente permanecia no quarto. Era mais seguro. A televisão sempre no canal da TV Aparecida.
Os repórteres dos programas religiosos faziam tanta companhia pra ela que, ao chegarmos, ela nos apresentava a eles. Essa é minha filha, essa é aquela minha neta que mora fora! Lembrando disso, desisti de ir numa igreja por aqui em Curitiba. Não precisava. Ver a transmissão pelo youtube me fez sentir mais perto de uma Dona Rita que só via missa pela TV. E, sabe, vó, o padre não rezou uma ave-maria sequer.
uma música, um filme e um livro que estiveram comigo nesse período da internação e de luto foram:
- Losing my religion (R.E.M.), a música da cena de karaokê no filme Aftersun. Mais sobre esse filme no texto da minha xará, na
de Luisa Manske. Ela também escreveu sobre Vidas passadas e tenho quase certeza de que o filme foi assistido no cinema onde tentei chegar com meu ingresso expirado.- A despedida (2019, dirigido por Lulu Wang) -- sobre uma neta que volta dos Estados Unidos à China para se despedir de uma avó que vive ainda por muitos anos. Fala sobre distância de familiares queridos e diferenças culturais.
- Aos prantos no mercado (Michelle Zauner, com tradução de Ana Ban) -- o livro sobre luto que todo mundo estava lendo no ano passado e parece que guardei para o momento certo. Para ler chorando.






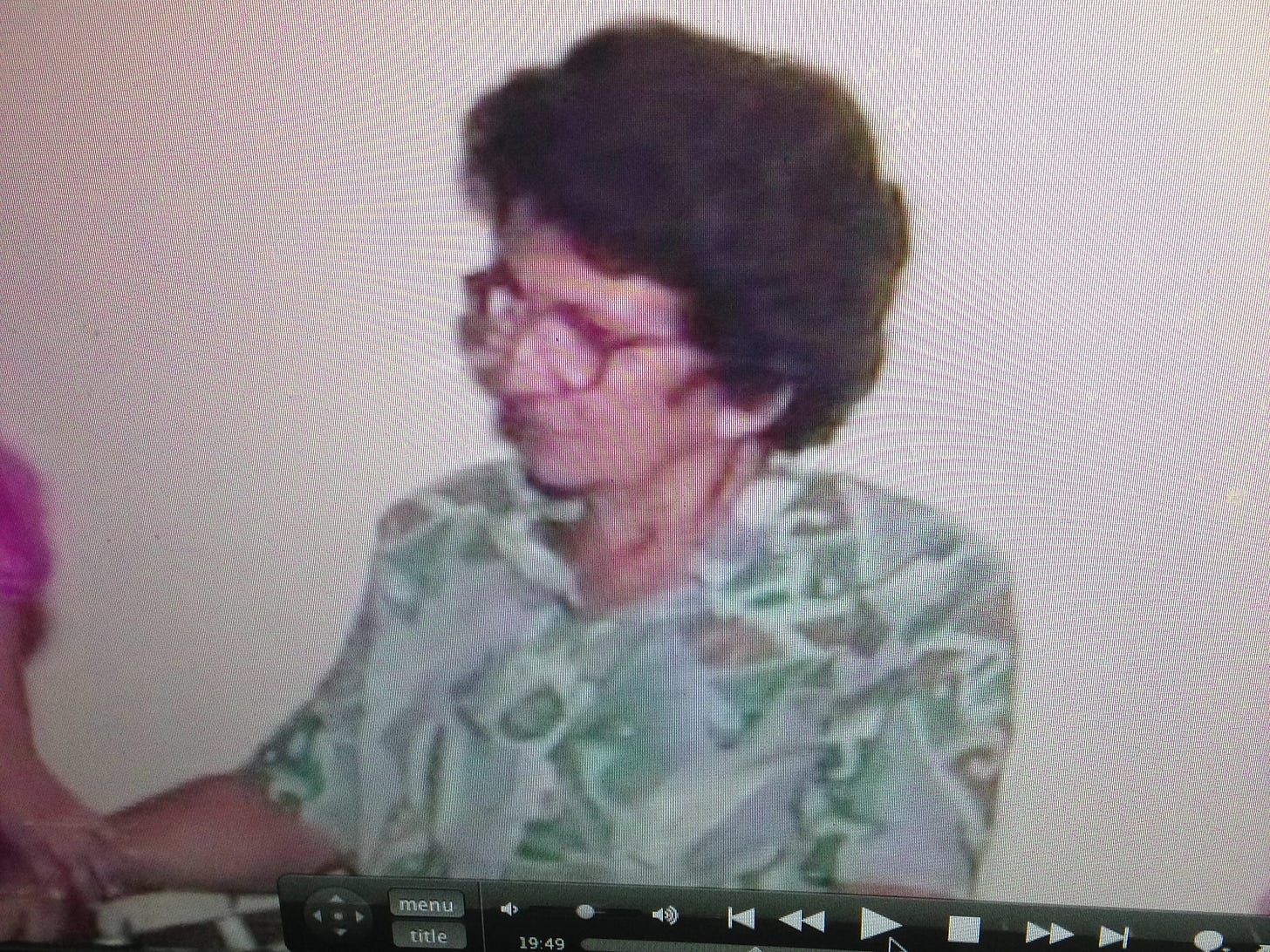
Que bonito esse relato, obrigado por compartilhar. Meus sentimentos pela sua perda. Um abração
cada um vive o luto a sua maneira, perto ou longe. pelo seu texto, dá para perceber o quanto ela foi importante pra você: quanto amor brota de cada palavra!