Terça-feira à noite, centro de Curitiba. Nada como o otimismo de pegar um cineminha na sessão das 21h15. Sigo as orientações do aplicativo de navegação para chegar ao Shopping Novo Batel, até então um desconhecido pra mim. Já sei que o local está fechado. Funciona só até às sete da noite. Talvez o cinema tenha uma entrada própria, direto da rua. Quem sabe.
A estrutura do prédio é toda de vidro. Consigo ver que poucas lâmpadas estão acesas no interior do estabelecimento. Devem ser as mesmas luzes para os casos de emergência. Uma banda da porta, também de vidro, está escancarada, chamando o transeunte a entrar num corredor deserto e escuro. Convidativo. Nenhum segurança à vista. Da calçada, preciso descer um lance de escadas para chegar à porta. Entro.
Do lado de dentro, a arquitetura do shopping lembra os arcos brancos e o revestimento de vidro da Rua 24 Horas (que não fica aberta 24h) e da estufa do Jardim Botânico. O ‘novo’ shopping foi inaugurado nos anos 80. Não consigo confirmar se poderia ser obra do mesmo arquiteto dos pontos turísticos da cidade. Não encontro quase nada sobre o empreendimento. Apenas um tópico no fórum questionando se o misterioso Novo Batel seria um empreendimento de fachada para lavagem de dinheiro ou se o preço exorbitante dos produtos ali seria suficiente para sustentar um negócio com pouco movimento.
Mas agora as lojas estão fechadas e prefiro não olhar atentamente para as vitrines soturnas. Todos os corredores estão vazios. O caminho até o cinema é sinalizado por placas. As escadas rolantes não estão mais funcionando. Desço cada vez mais para as profundezas do shopping e chego num andar com cara de praça de alimentação dos anos 90 (a minha única referência possível para shoppings antigos, considerando que nasci nessa década), com o cinema num canto do piso. Vejo a primeira pessoa desde que estou ali dentro: um homem sentado na mesa de um restaurante fechado (fechado agora ou fechado definitivamente?), vendo televisão. Sim, tem uma TV fixada numa pilastra. Não reparei o que estava passando na tela.
As atendentes da bomboniere parecem surpresas ao me ver chegando. Não localizo facilmente nem a bilheteria, nem o banheiro. Pergunto a elas, e os lugares se materializam. Compro os ingressos para o filme. Não existe a opção de comprar com antecedência pela internet. Vou ao banheiro sozinha pensando na cena de filme de terror que estou vivendo. Saio de lá, sobrevivente, e minha namorada está encarando fixamente os papéis com as informações do filme, pasma com o fato de que não tem lugar marcado. Na hora da compra, nem reparei que a moça não me pediu para escolher os assentos.
Para chegar até a sala de exibição, desço mais escadas. Sou a primeira a entrar. Poltronas vermelhas, cortinas vermelhas nas paredes, revestimento vermelho. Minha namorada está lá fora perguntando sobre as saídas de emergência e demoro alguns segundos pensando se seria mais inteligente sentar nas últimas fileiras ou nas cadeiras mais próximas da porta. Sentamos no meio. Chega uma mulher para assistir ao mesmo filme e escolhe um lugar a partir do espaço que estamos ocupando. Chega um casal de homens e senta nas duas poltronas exatamente na nossa frente. O restante da sala vazio. Depois, entram mais algumas pessoas.
Ar-condicionado, cheiro de mofo, cadeira desconfortável. Relaxo depois da caminhada apressada para chegar a tempo da sessão. As luzes se apagam. Começa a exibição.
*
O filme que me fez viver toda essa aventura foi o documentário de Paul Preciado, Orlando, minha biografia política, parte da programação do Festival Varilux. Uma das poucas sessões fora do horário comercial. Ou encarava esse suspense do outro lado do centro da cidade ou pagava um preço exorbitante para ver o mesmo filme numa sala de cinema especial, com cadeiras namoradeiras, dentro de um shopping com loja de grife, onde só entrei uma vez na vida para tirar uma foto 3x4 e tive a certeza de que seria barrada na porta.
Durante os trailers, torci para que o longa não tivesse um roteiro arrastado. Aquela lentidão toda. Eu gosto de documentários. Mas era terça-feira à noite, acordei cedo, tinha acabado de caminhar por mais de meia hora. Precisava de um desconto.
Em formato de carta dirigida a Virginia Woolf, o documentário tem narração de Preciado e apresenta histórias de pessoas trans interpretando diversos Orlandos. Uma mistura entre vidas reais e pontos-chave da trama do livro. São Orlandos contemporâneos. O filme tem um tom teatral, personagens trajando essas golas plissadas (as gorgeiras) de visual aristocrático. É interessante. Mas pouco a pouco o filme foi me perdendo.
Poderia ler aquele livro em outro momento. Nem precisava adaptar o texto do roteiro. Poderia ouvir a narração em formato de audiolivro, voltando trinta segundos de áudio a cada distração. Os olhos ficaram pesados, a voz de Preciado cada vez mais longe, as balinhas que levei pra me manter acordada acabaram, começaram os cochilos à contragosto. De um deles acordei com um barulho de contínuo ronco e fiquei aliviada quando percebi que o ressonar não era meu. E sim de outro otimista que teve a belíssima ideia de assistir a um documentário no cinema no final de uma terça-feira qualquer.
Não me leve a mal. Sou especialista em sucumbir ao sono nos mais diversos cinemas. O perigo de estar num lugar confortável e a temperatura pendendo para o friozinho. Eu tirei uma sonequinha até no musical do Fantasma da Ópera em pleno Teatro Majestic, na Broadway. Simplesmente não conseguia me manter acordada depois de um dia inteiro turistando no alto dos dezoito anos de vida. Outro dia vi a trilogia de O senhor dos anéis e foi como assistir a algo completamente novo. Percebi que dormi em boa parte dos três filmes vistos no cinema. Provavelmente só despertava numa cena mais barulhenta de guerra.
Quando acidental, a soneca no cinema gera um sentimento de peso na consciência. Você queria ver o filme. Teve a certeza de que venceria o cansaço. Pensou que era mais forte do que o sono, que o café daria conta de te manter acordada. Uma derrota, um sono ruim. Você sequer sai descansada. Por outro lado, a soneca planejada no cinema é um dos melhores pequenos prazeres que existem.
A receita para o sucesso é encontrar um cinema com os seguintes atributos:
(1) ingresso baratinho ou gratuito;
(2) programação de filmes obscuros;
(3) poltronas confortáveis;
(4) sala de exibição ampla;
(5.1) pouco movimento em geral ou (5.2) perto de casa para poder ir nos horários mais vazios.
Não disse que seria fácil. Mas o resultado é um soninho de qualidade. Um passeio diferente. Uma exploração do espaço urbano. Seja você também um entusiasta do cochilo no cinema.
Hoje não tenho um lugar preferido em Curitiba para a prática. O Novo Batel até teria mais potencial se fosse um tanto mais perto de casa. A programação preenche os requisitos. As salas vazias também. Apesar do cheiro presente de mofo, não saí de lá com crise alérgica. O cenário é promissor. Mas primeiro preciso descobrir se o shopping existe mesmo ou se foi um delírio da semana passada.
três bons cinemas para tirar uma soneca
1. Cineteca Nacional (Santiago/Chile) (ou: o cinema do Centro Cultural La Moneda) (ou: o cinema no subsolo do palácio de governo). Ficava a uma distância de caminhada da minha casa. Cheguei a pagar dois reais no ingresso. Programação completinha com filmes turcos obscuros. Cadeiras confortáveis. Na minha vida de intercambista, na falta do que fazer, ia andando até lá e tirava uma boa soneca em parte do filme. Lembro do tom onírico de um documentário (sempre eles) sobre a relação de Gabriela Mistral e Doris Dana.
2. Cine Praia Grande (São Luís/MA – in memoriam): o finado cinema de rua no Centro de Criatividade Odylo Costa Filho. Localizado no fervo do centro histórico de São Luís, era um local perfeito para se proteger do calor. Sombra para descansar depois de torrar nas ruas de pedra. Passava muito filme fora do circuito tradicional. Tinha programação durante a tarde, perfeito para quando eu trabalhava num jornal ali perto, no turno da manhã.
3. Cine Passeio (Curitiba/PR). As cadeiras são duras. As salas, pequenas, frequentemente abarrotadas de gente. Perigando encontrar um conhecido do trabalho sentado logo ao lado. Ninguém quer tirar um cochilo ao lado de um colega de trabalho. Sou meio contra as sonecas nesse cinema porque a entrada não é tão barata pra quem não paga meia-entrada. Está nessa lista porque ainda não encontrei um cinema melhor para dormir em Curitiba. E porque foi lá que eu assisti ao documentário Retratos fantasmas (Kleber Mendonça). A segunda parte, mais arrastada que as outras, é o melhor momento para descansar os olhos. Nada como ver um filme sobre cinemas de rua num cinema de rua e aproveitar para tirar um soninho.
mais doses
O obituário de Edith Elek, tradutora de um dos melhores livros que li no ano passado: A porta (Magda Szabó).
Esse ano acompanhei a Flip de longe: destaco o inventário da Barbara Bom Angelo e o relato da Ana Rüsche: a Flip em dois livros e muita chuva.





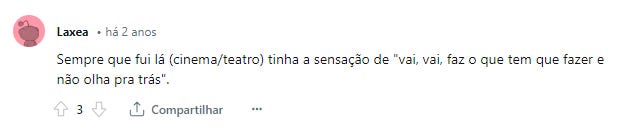
Eu ri demais lendo o texto. Eu e minha irmã íamos direto, às segundas de noite, a um cinema em um shopping aqui da cidade, que nesse dia tinha sessão bem barata. Na época eu era cliente Itaú e tinha direito a pagar meia na sala VIP. Ficava por volta de 12 reais o ingresso. Pois bem, a sala vazia, um friozinho gostoso, eu sacava minha meia da bolsa, me enrolava no casaco e dormia horrores. Teve uma vez que antes da sessão comprei um jogo de cama numa loja de departamento. Na hora do filme, me enrolei com o lençol e foi uma maravilha.
beijos!
Eu queria ter assistido Retratos fantasmas. Esse foi um ano de muitos "queria ter assistido", mas uma responsabilidade no horário noturno tornou a frequência ao cinema muito difícil. (Sábados além de sempre ter algum compromisso o ingresso é mais caro)